TEXTOS DE ALUNOS
O Curso de Filosofia Universal reúne alunos cujo brilhantismo e talento singulares são expressos em trabalhos escritos solicitados no decorrer do Programa do Curso.
Nesta seção será disposta uma seleção dos melhores destes trabalhos para apreciação geral.

POLIR NÃO MUDA A NATUREZA DO METAL,
APENAS REVELA SEU VERDADEIRO BRILHO
Por William Matheus D. M. Fonseca
03 de setembro de 2025
Ao receber esta atividade [1], tomei-a com um verdadeiro sentimento de dever. Senti que não era mais alguém seguindo um roteiro, mas um homem que definiu quem queria ser, pois já havia decidido quem não era. Nisso, uma clareza nova se impôs, forjada pelas ideias que agora permeiam minha consciência: não sou guiado por um único farol, mas por uma constelação. Meus ideais estão dispostos em camadas, cada qual organizada a partir do meu núcleo mais profundo.
Na camada exterior, a mais visível, está o "William no topo da montanha", que consigo visualizar nos raros momentos em que as nuvens da dúvida se dissipam. É a imagem do homem que, conscientemente, aspiro ser: justo, sábio, humilde, polímata, artista, polido, generoso, verdadeiro. Um homem que compreende as diversas áreas do saber, que vive uma vida de nobreza e contribuição, que superou suas fraquezas e habita a plenitude. Este é o meu norte, o destino final que plotei em meu mapa.
Se o primeiro ideal é o destino, o segundo é o caminho. É o ideal que tem dominado minha vida agora; a tarefa que consome minha energia diária e que se tornou, no momento, mais importante que qualquer outra. Demorei meses para enxergar este tesouro que estava diante de mim, mas, ao percebê-lo, descobri meu grande projeto atual: o estudo e a prática da vontade. Cada ritual, cada corrida, cada página de Riboulet e Payot lida com minhas anotações, cada vez que escolho o estudo em vez da distração, sinto que estou servindo a este ideal.
É o trabalho de um artesão que, antes de construir um templo, precisa forjar suas próprias ferramentas. Compreendi que não poderia alcançar o "virtuoso" com uma vontade fraturada. Portanto, meu ideal prático e imediato é tornar-me o ferreiro de minha própria alma, temperando o aço da minha vontade na forja do esforço diário e repetido.
Por último, na camada mais profunda, está o núcleo, a fonte de energia que alimenta todo o resto. Por que desejo ser um homem melhor? Por que me submeter à dolorosa forja da vontade? A resposta está na aversão à minha vida anterior, feita de monotonia e abulia. Não busco apenas ser melhor; busco uma vida que tenha significado.
Meu ideal primordial é a busca por um propósito, por uma razão para existir que transcenda o mero ciclo de trabalho e consumo. É o que Viktor Frankl chamaria de busca por um sentido. Senti isso quando, ao ver o Homem Bicentenário, desejei ser mais Andrew do que William. Eu o expresso quando digo que quero "salvar o máximo que posso deste mundo". Meu desejo mais profundo não é apenas a autoperfeição, mas a autotranscendência: tornar-me forte e sábio para poder agir no mundo de forma significativa.
A decisão pelos meus ideais não foi um ato; foi um processo. A Engenharia Florestal, apesar de tudo, legou-me uma boa metáfora: uma semente que germina no escuro, muito antes de romper a superfície, já está em pleno desenvolvimento, mas a planta só toma consciência de si quando sente o sol. Minha decisão nasceu não como uma afirmação, mas como uma negação. Ela brotou na dor de um "ano muito frustrante", no vazio do "monótono e abulia". O ideal existia ali como uma sombra, como a fome que lembra da necessidade de alimento. Eu não sabia o que queria ser, mas sentia, de forma visceral, o que não queria mais ser. A decisão, nesta fase, foi um murmúrio inconsciente: "Isto não basta".
A semente rompeu a terra no dia em que reencontrei Marcelo na pós-pandemia e minha intuição me disse: "Cara, você está diferente... Eu gostei disso". Naquele momento, o ideal deixou de ser uma negação abstrata e se tornou uma possibilidade concreta. Vi em meu amigo a prova de que a transformação era real. A decisão, ali, ainda não era um compromisso, mas foi a primeira vez que meu Ideal teve um rosto.
A decisão se transformou em ato no momento em que comecei a agir de forma deliberada e contrária aos meus antigos hábitos. O ponto de virada foi quando alinhei minhas ações com minhas aspirações, mesmo que de forma vacilante.
Quando isso aconteceu? Aconteceu ao ter acesso ao curso de Filosofia Universal; ao aceitar o trabalho que hoje garante meu sustento; e, mais intensamente, nos últimos meses. Aconteceu quando abandonei velhos vícios, quando instituí rituais diários e quando me mudei para a Tirivia, minha nova fortaleza. Cada ato foi um voto. Cada pequena vitória, a assinatura em um contrato que eu estava escrevendo com meu futuro eu. A decisão foi tomada não com palavras, mas com esforço; como um arco que se coloca uma tensão, pouco a pouco, antes do disparo.
Contudo, devo ter estratégia, preciso reconhecer as ações que me aproximam e as que me afastam do meu ideal. Em meu exercício de autoanálise, como um cientista que estuda a si mesmo, mapeei as táticas do inimigo interior: a fuga para distrações fúteis para evitar o desconforto do esforço; os sofismas que minha mente cria para justificar a inércia; e a impaciência que me faz desprezar os pequenos golpes do ferreiro, ansiando pela espada já forjada.
Felizmente, também identifiquei as ações que me fortalecem: a presença, ao fazer uma coisa de cada vez com foco total; o desconforto deliberado, ao escolher o estudo quando o corpo pede a cama e a corrida quando a mente pede a inércia; o silêncio, ao criar espaços no dia para a reflexão, longe do ruído do mundo e das telas; e a honestidade brutal, ao olhar para minhas falhas sem desculpas, como um engenheiro que admite um erro de cálculo para poder corrigi-lo.
Lembro-me de uma aula em que o professor explicou o trabalho da educação: o mestre pode ir ao encontro do estudante com toda a sua sabedoria, mas se o aluno não caminhar em direção ao mestre, de nada adianta. Essa imagem me serviu como resposta para o encontro com meus ideais. Sinto que eles sempre estiveram lá, no horizonte do meu ser, como uma possibilidade encoberta pela névoa dos vícios e da frouxidão da alma. O Ideal não veio até mim, nem eu fui até ele: nós caminhamos um em direção ao outro. Ele se manifestou primeiramente como ausência, depois como reflexo e por fim, como oportunidade. Minha vontade, em cada ato de disciplina, tem me dado o movimento. Um não existe sem o outro. Um ideal sem um homem que caminhe em sua direção é apenas uma fantasia; um homem que caminha sem um ideal não passa de um errante.
É por isso que somente agora estou tomando consciência da decisão que meu ser já havia tomado há muito tempo. Somente agora a planta, que crescia por instinto, está se vendo pela primeira vez. Finalmente, estou dando um nome ao movimento que começou a governar minha vida.
Com tudo isso, estou executando uma reprogramação, a passos de tartaruga, em um projeto de engenharia de mim mesmo. Um projeto consciente de aplicar os princípios da razão e da disciplina à matéria-prima da minha própria natureza, com o objetivo de construir quem eu realmente quero ser: um homem íntegro, de vontade inabalável e guiado por um propósito nobre.
Meu desejo por este ideal nasce da experiência do seu oposto. Minha vida de monotonia era um estado de nulidade existencial. Este desejo é a reação primordial da alma contra a ausência de significado. Seria isso o instinto de sobrevivência do meu espírito, recusando-se a viver uma vida com o sabor de cinzas?
Por fim, não espero um ponto final. Meus ideais não são um destino onde se chega para descansar. O que espero alcançar é a transformação contínua do meu ser. Sei que jamais deixarei de sentir preguiça, mas tenho a absoluta certeza de que, continuando firmemente, minha vontade se tornará imbatível. Jamais deixarei de ter dúvidas, mas pretendo adquirir uma clareza de propósito que me impeça de paralisar. E não deixarei de falhar, mas estou forjando resiliência para me reerguer e aprender com a queda, em vez de me afogar nela.
A verdade é que "o William no topo da montanha" não está lá me esperando. Ele está sendo construído a cada passo que dou neste exato momento. A recompensa não é a vista do cume. É o homem que me torno ao conquistar cada batalha diária.
REFERÊNCIAS
PAYOT, Jules. A educação da vontade. 2. ed. Campinas, SP: Kirion, 2018.
FRANKL, Viktor E. Em busca de sentido: um psicólogo no campo de concentração. Porto Alegre, RS: Sinodal, 1987.
RIBOULET, Louis. Conselhos sobre o trabalho intelectual. Campinas, SP: Kirion, 2019.
NOTA
[1] Esta inspirada dissertação é fruto da atividade da Unidade II - A Vida Intelectual a qual subscreveu os alunos às seguintes orientações:
"Amigo estudante,
Da pena de Riboulet juntos aprendemos que a busca por um ideal não é uma sugestão, mas um dever. Mais que isso, é o dever da vida exitosa. Dá uma representação clara do futuro e, por isso mesmo, alumia cada uma de nossas ações no presente. É a inspiração que conduz à grandeza, é o fim que enobrece, é a meta que entusiasma, é a direção que organiza, é a fé que inspira e que alegra o trabalho quotidiano.
Redija, em suas palavras, de forma livre, sobre seu(s) ideal(is). Para enriquecer sua redação, como aprendemos, pense a partir de problemas que demandem soluções, perguntas que exijam respostas, possibilidades que clamem realizações. Para ajudá-lo, sugiro meditardes sobre as seguintes questões: Quando foi que decidi por este(s) ideal(is)? Eu fui até ele ou ele veio até mim? Alguém me o apresentou ou eu senti um chamado num momento de solidão? Consigo sintetizar este(s) ideal(is) em um nome ou definição? Por que eu desejo este(s) ideal(is)? De que modo estou realizando este(s) ideal(is) todos os dias? Quais ações me aproximam e quais me afastam deste(s) ideal(is)? O que eu espero que aconteça quando realizar este(s) ideal(is)?"

AS RAÍZES ARISTOCRÁTICAS DA ETIQUETA:
DA IDADE MÉDIA AO ANCIEN RÉGIME
Por Livia Maria Piloto Rossi
30 de agosto de 2025
A ETIQUETA À LUZ DA HISTÓRIA [1]
A etiqueta constitui um cerimonial minucioso, quase litúrgico, dos costumes e de seus requintes, que ganhou força a partir do século XV, no fastígio da influência da corte da Borgonha. Formalizavam-se os instintos depurados ao mesmo tempo que a condicionalidade das ações era demonstrada com ternura. Inicialmente, os pressupostos da etiqueta não eram valorizados como leis categóricas a serem seguidas, mas como possibilidade de ascensão social para aqueles que entravam em contato com os bons hábitos. A espetacularização dos signos de consciência nobre não possuía, em sua origem, fins intrínsecos: eram exercícios cotidianos, praticados como sacrifício disciplinado, para que a sutileza das ações fosse percebida como espontaneidade diante da corte. Era a arte de agir sem esforço, a graça natural que dissimulava o empenho diário e conferia distinção ao cortesão. Nessa encenação, a disputa política pela precedência tornava-se discreta e refinada, evitando a aparência de ofensiva direta e estratégica e assumindo feição honrada.
A partir da categorização daquilo que esteve um dia atrelado a rótulos de sangue e pretensão aristocrática, emerge o aprendizado do autodomínio da natureza humana. As figuras nobres que habitaram palácios não eram, de todo, mascaradas ou infames; a motivação da nobreza consistia em conduzir forças morais para prestígio social, enquanto se acreditava, ao mesmo tempo, estar ali por precedência divina para combater as consequências da excitação dos instintos. É verdade dizer que esses hábitos se incorporaram à personalidade nobre, transformando-se em segunda natureza. Posteriormente, com Petrarca, desloca-se o foco da precedência fundamentada no nascimento para a valorização da virtude interior, haja vista que existem almas nobres em lugares não civilizados e almas decadentes em ambientes de alto relevo social. Ainda assim, a crítica da incessante busca por prestígio social, que marcou trechos influentes da história, não deve servir de justificativa para a escolha consciente do declínio do espírito.
A longa experiência humana comprova que o homem não constrói civilidade a partir daquilo que retrai sua dignidade, mas do que a eleva, superando rótulos de sangue ou classe, através do aprendizado do trabalho humano secular e seus propósitos. Logo, a expressão refinada das emoções não serve à simples articulação das expectativas sociais, mas representa a consequência da sede genuína em alcançar a plenitude, através do reconhecimento de propósitos particulares, exigindo clareza mental, estudo de obras aclamadas por nomes célebres e recolhimento implacável dos instintos.
A CAVALARIA MEDIEVAL E A ETIQUETA
A relação entre cavalaria medieval e etiqueta tem raízes na Ásia Central, onde os cavalos eram endêmicos antes da Idade do Bronze (3300 a.C. a 700 a.C.) e os primeiros cavaleiros surgiram entre povos nômades indo-arianos. Esses grupos desenvolveram técnicas de combate a cavalo que influenciaram persas, gregos e chineses, originando, entre os gregos, a classe dos hipeus e, posteriormente, os hetairoi, companheiros de elite de Alexandre, o Grande. Em Roma, a ordem dos equestres consolidou a associação entre cavalaria, nobreza e poder. Com a queda do Império Romano do Ocidente, a tradição ressurgiu na Europa, especialmente entre ostrogodos e francos, ganhando destaque político e militar, culminando na atuação de Carlos Martel, que em 732 d.C. repeliu os árabes usando a cavalaria cristã. Com a descentralização do poder na Europa medieval, surgiram as Cruzadas como instrumento de recuperação do poder da Igreja e centralização do rei, oferecendo compensações aos cavaleiros, ainda que vinculadas a um código de honra de valores categóricos.
Na Idade Média, o cavaleiro era um homem de nascimento nobre e rigorosamente treinado para o combate a cavalo, cuja identidade se fundamentava na lealdade e na coragem, sendo esta última compreendida como força advinda do coração (cor em latim), nascida do amor em oposição ao medo, o que assegurava sua honra ao defender a fortaleza diante da escassez e perigo. O heroísmo funcionava como catalisador dessa coragem, tornando o cavaleiro simultaneamente combatente físico e portador de um ideal superior. Essa dimensão de bravura interior aproximava simbolicamente o cavaleiro da nobreza do rei, pois apenas quem conhecia seu próprio valor poderia honrar outro, fosse igual ou inferior. Daí a cortesia tornar-se exigência: servir, respeitar precedências e conter instintos não era subserviência, mas sinal de grandeza interior. Assim, a cavalaria articulava dois planos: como ideal, exigia a busca categórica da honra e da cortesia como fins em si mesmos; como prática, seguir tais virtudes abria caminho para prestígio social, reconhecimento e ascensão na hierarquia medieval, conferindo à etiqueta caráter de disciplina interior que se exterioriza em gestos sutis de honra e gentileza.
ERASMO E O DE CIVILITATE MORUM PUERILIUM
Erasmo de Rotterdam, teólogo holandês, concomitante ao trabalho de Castiglione, consolidou a discussão sobre a etiqueta com fins pedagógicos, sucedendo tratados medievalistas que vinculavam comportamento ao prestígio social. A Etiqueta, em sua perspectiva, transcende a mera fidelidade às normas sociais e econômicas, voltando-se à lapidação dos dotes morais, diante da superação da exclusividade de certos grupos sociais de orná-los para o vislumbre alheio. Reconhecido como autor de Sobre a Civilidade nas Crianças (1530), Erasmo promoveu comportamentos que se transformaram em regras e acatamentos culturais duradouros: não mergulhar os dedos no molho, não usar a sopeira como copo; gestos aparentemente simples que refletiam disciplina, refinamento e civilidade. A sobreposição das regras higiênicas à repressão religiosa dos comportamentos degradantes, esta última fundamentada na noção de martírio da carne, conferiu maior influência às práticas de Erasmo, pois sua coerência e aplicabilidade se ajustavam ao nível de consciência do público leigo, prolongando o alcance civilizatório das normas de conduta.
A CORTE DO DUCADO DE BORGONHA
O Ducado de Borgonha funcionou como um verdadeiro laboratório da etiqueta política no Ocidente, transformando requintes de autoridade senhorial em afirmação de culto ritualístico. Desde a história do apanágio de Felipe, o Audaz, de João sem Medo, até de Felipe, o Bom e, finalmente, de Carlos, o Temerário, derrotado na batalha de Nancy contra os suíços, a Borgonha converteu uma terra agrícola em centro de magnificência, onde festas, banquetes e cerimônias exaltavam o duque quase como um ser divino. A refeição tornou-se ato litúrgico, momento do cotidiano em que a honra residia tanto em ceder quanto em ocupar o primeiro lugar. Conforme a nobreza adquiria comportamentos formalizados em sua constituição, era considerado um gesto advindo de uma consciência superior a própria honra de ceder, significado como algo de valor real na história da civilização. Quanto mais alta a hierarquia, maior a responsabilidade sobre a cortesia, um dos aspectos cruciais da definição da etiqueta. A vontade do príncipe equivalia à lei, e a teatralização do poder, registrada pelo cronista Jacques du Clercq, lançou a etiqueta como linguagem de hierarquia e superioridade divina, em suas anotações a respeito de festas que foram feitas ao príncipe em Arras: “Se Deus tivesse descido do céu, não sei se lhe tributariam maior honra que ao príncipe”.
O modelo irradiou-se para outras cortes europeias, na medida em que se compreendia que a política se manifestava em gestos e formalidades, transgredindo estratégias militares. Porém, o convívio cortesão indubitavelmente era incorporado à categoria de instrumento de dominação simbólica, à serviço da ordenação social. Em Florença renascentista, os condottieri e os círculos humanistas refinaram a tradição, fundindo luxo, artifícios e letras em novos distintivos. Através de aparato nobre e pedagógico, a corte borguinhã pavimentou o caminho da etiqueta europeia ao converter cerimônia em soberania, e seu processo e significado correspondem à uma matriz de condutas, gestos, formalizações, comportamentos e aparências, que se prolongaria até a corte absolutista de Luís XIV em Versalhes.
LUÍS XIV E O PALÁCIO DE VERSALHES
Luís XIV, o Rei Sol, ocupa lugar decisivo na história da etiqueta porque elevou sua visibilidade e influência no reinado à aparente soberania moral. Após a morte do cardeal Mazarino, em 1661, Luís XIV recusou a figura de um primeiro-ministro francês e concentrou em si a condução do Estado. Em Versalhes, converteu a vida cotidiana em espetáculo minuciosamente apresentado, no qual cada precedência definia posições e abria ou fechava possibilidades de ascensão. O palácio reunia milhares de pessoas e, em sua trama de configuração social, funcionava como uma cidade em escala reduzida, onde até o ritual de despertar do rei, com entradas graduais de cortesãos, encenava a hierarquia postulada politicamente. Nesse contexto, a etiqueta era marcador de distinção, pois impunha disciplina rigorosa e garantia reconhecimento, a partir da contenção das paixões.
O Rei Luís XIV levava o refinamento e recolhimento dos instintos ao plano das artes: como dançarino e patrono da ópera, utilizava a dança como exercício de educação estética, formalizando a emoção e transmitindo um ideal de sensibilidade cultivada, capaz de moldar caráter e servir de exemplo à elite.
NOTA
[1] Texto oriundo de respostas de questionário elaborado a partir do estudo do livro Etiqueta no Antigo Regime de Renato Janine Ribeiro.

DA IDENTIDADE TRADICIONAL: UM ESTUDO A PARTIR DO FILME A TRIBO DA CAVERNA DO URSO
Por Marcelo da Silva Irmão
19 de dezembro de 2021
“A Tribo da Caverna do Urso”, The Clan of the Cave Bear, é um filme norte-americano sob direção de Michael Chapman baseado no livro homônimo de 1980 por Jean M. Auel mais conhecido no Brasil como “Ayla, a Filha das Cavernas”. Ambientada numa Europa pré-histórica, a aventura expõe intimamente o contato turbulento entre os dois mais recentes ancestrais na árvore filogenética humana, os neandertais (Homo neanderthalensis, King, 1864) e os cro-magnons (Homo sapiens, Linnaeus, 1735) sob a perspectiva de uma criança deste último grupo. A obra merece especial atenção por seu valor antropológico ao explorar com relativa fidelidade os fatos em torno da pré-história humana. Zelo tal que pode se manifestar tanto na quantidade de vezes em que se a assiste, quanta na forma em que se o faz. Ali estão questões fundamentais que concernem aos modos de relação dos homens [e mulheres!] entre si e com o mundo; vemos o homem tal como se apresenta originalmente, uma criatura biológica[1], cuja forma e existência a natureza seleciona gradualmente na mesma medida em que o faz com outros seres vivos; vemos o florescer da memória ancestral que, meio à luta, cria a composição de gestos, formas e sabores na aurora da humanidade.
Logo nas primeiras cenas é apresentado o trauma que determinará todos os eventos a que estaria sujeita a pequena Ayla (interpretada pela atriz Daryl Hannah), uma cro-magnon que passa a viver, por necessidade, com uma tribo de neandertais que a veem como ameaça. Há, nesta cena, um curioso paralelo com o trauma originário de um nascimento humano prematuro, momento em que há a ruptura – que é, a um só tempo, começo e fim – do ambiente pacífico do ventre materno, para um ambiente hostil e desafiador. Para muitos em psicanálise – entre eles Freud[2] – o nascimento não constitui um trauma por excelência, uma vez que o feto não tem a percepção de seu meio imediato, isto é, sua mãe, como um objeto externo a si, antes como sua extensão. No entanto, Winnicott[3] nos apresenta três possíveis categorias de experiência do nascimento: uma normal, saudável, positiva e valiosa; uma medianamente traumática, mas que pode exacerbar experiências traumáticas subsequentes e ser por eles exacerbada; e uma terceira experiência, também traumática, porém de caráter extremo. O filme nos coloca diante de uma experiência traumática mediana, em que a centralidade do trauma é evidenciada pela separação temporã de Ayla e sua mãe.
Ainda imatura, sem preparo para suportar a luta pela existência, Ayla é lançada abruptamente nas águas gélidas da solidão. Vemos, alegoricamente, no terremoto, as árvores chacoalharem como a corrente sanguínea intensa carregando o coquetel de hormônios do parto; vemos a terra se rachando como a ruptura do saco amniótico; e vemos o contato final entre mãe e filha como o cordão umbilical que se rompe e marca o início de um novo ser, este dotado agora de uma existência própria e intransferível. Após a hecatombe, Ayla se vê solitária em meio às ameaças do mundo: sem o adequado desenvolvimento físico para lutar, e sem o necessário desenvolvimento psíquico e simbólico para significar sua condição. A catástrofe a deixa na situação incontornável do desamparo (hilflosigkeit), da “insocorribilidade” ontológica da condição humana.
Fez-se necessária uma intervenção, para a qual Ayla caminha até a quase morte. A ruptura lhe propôs uma mudança de postura em função de sua abrupta mudança de ambiente, a qual não pôde controlar. Antes de seu “nascimento”, porém, podemos imaginar Ayla como um feto: passivo, que aguarda chegar, por vias osmóticas, sanguíneas e químicas, o alimento, o calor, a água. Agora, no entanto, como recém-nascida, torna-se, ao seu modo, ativa: chora, cheira, belisca, puxa, caminha, experiencia, algo que, em sua condição fetal, era sempre mediado pela mãe. É precisamente após esse momento de tensão inicial na primeira cena que Ayla literalmente caminha com as próprias pernas, numa postura ativa e direcionada para o futuro que lhe aguarda. Ali, Ayla nasce, e não por coincidência é separada de sua mãe, tragada pela terra. Ali, Ayla se apercebe, por ora superficialmente, de sua existência num mundo dado na medida em que se nota diferente de tudo que a rodeia.
Difere-se, primeiramente, daquele que, na cena seguinte, a quer devorar, o leão, que a coloca em fuga e que a faz entocar-se na caverna, simulacro do valhacouto materno, agora perdido. E como simulacro, cópia defeituosa, realiza mal a função que busca copiar – e assim Ayla é marcada pelas garras do predador: marcas que, como um novo trauma, se manifestam, mas não se limitam, ao rasgar da epiderme.
Nessas duas cenas se apresenta brevemente – e vai se complexificando conforme o desenrolar da trama – a questão sobre a qual pretendo discorrer aqui sem nenhuma intenção de esgotá-la. Trata-se da forma complexa como diversas características humanas se desenvolvem em função da interrelação entre indivíduos e seu meio, bem como se manifestam as características herdadas de uma vivência específica, num meio específico. Com “características” não me refiro apenas aos caracteres expressos fisicamente, mas também formas de comportamento e comunicação, religiosidade, sentimentos, trejeitos etc.
Há de se considerar que a religiosidade tem um grande, talvez o maior, peso na cotidianidade do homem primitivo, como exposto no filme, visto que estes homens viviam sob profundo encantamento de um mundo que, continuamente, desvelava-se nas graduais experienciações do cotidiano, no transcorrer pessoano[4] da vida: a eterna novidade do mundo; ao mesmo tempo, essa religiosidade se mostrava verdadeira na exata medida em que preservava suas vidas. Quero com isto dizer que garantia a vida, e não simplesmente a facilitava: caso contrário sugeriria que o elemento religioso era simplesmente importante, quando na verdade era fundamental. Há uma diferença significativa nos termos, que nos leva a questionar se o homem moderno, arreligioso que é, quiçá antirreligioso, realmente “vive”, em todos os sentidos que o termo carrega. Ora, quanto mais no passado humano retornamos tanto mais se confundem a experiência-humana-do-divino e a sobrevivência-humana-no-mundo. Repare-se que nessas duas expressões compostas, “divino” e “mundo” encontram-se na mesma posição. Longe de mera coincidência, porém! Estão ambos os termos conectados ao elemento “humano” por preposições essenciais (“de” e “em”) que complementam o sentido dos verbos empregados. “Experienciar” é verbo transitivo, o próprio sentido da palavra exige um complemento: “o homem experiencia o divino”. O mesmo não ocorre, porém, com o verbo intransitivo “sobreviver” que, apesar disso, na expressão “sobrevivência humana no mundo” recebe forçosamente a preposição “em” (“no” é o resultado da preposição “em” mais o artigo “o”) devido ao elemento central de quem a expressão trata, isto é, aquele que sobrevive: o ente humano, o homem. Portanto, ao considerarmos atentamente a sobrevivência humano no mundo, clarificar-se-á que o uso da preposição “em” se dá num sentido muito menos sintáxico do que filosófico, quero dizer, se dá num sentido sublime que, conquanto sua riqueza de nuances, busca expressar um dado concreto da filosofia natural: o homem é ser condicional, está limitado, em condições normais, ao reduzido alcance de suas forças que trabalham o mundo, e que, por isso, nele sobrevive. O homem sobrevive no mundo, sobrevive com o mundo, e por isso mesmo esse mundo vai se tornando sagrado num processo tão longo e gradual que é justo chamá-lo intergeracional. Homem e mundo sacralizam-se, entrelaçam-se, e dessa convergência dá-se à luz a Tradição. Mas não se trata de qualquer mundo, nem tão pouco de todo o mundo. Se trata do mundo ao alcance, experienciado, do aqui-vivido. Essa relação, portanto, do homem com o divino-mundo não é, nem poderia ser, universal.
Para um homem ou um povo religioso não existe algo como uma homogeneidade dos espaços habitados. Os espaços não são de forma alguma todos iguais. Eles são qualitativamente diferentes, e essa qualidade está diretamente relacionada à sua sobrevivência nesse espaço. Há os espaços sagrados, habitáveis, aráveis, em suma “o mundo”, onde se concentra o povo e sua cultura, a civilização, e fora disso há o espaço amorfo, sem vida, que o circunda[5]. Entre os índios arara do interior do estado do Pará[6], por exemplo, o mito originário conta que, no início dos tempos, o povo vivia numa porção de terra no céu circundado por água, e uma fina película os separava. Nessa porção de terra habitável, chamado imnu, o povo vivia diante da presença da divindade Akuanduba, cujo tocar da flauta tsinkore mantinha a ordem das coisas, de modo que o espaço habitável, imnu, permanecia separado do espaço fora da película, wapara, onde morava toda sorte de seres e espíritos maléficos. Nesse mito nos apercebemos da diferença fundamental entre os espaços e do fato de que a sacralização do mundo – mundo este que é sempre “nosso mundo” – relaciona-se com a sobrevivência do povo sobre ele e com ele.
Em “A Tribo da Caverna do Urso”, o próprio nome da trama denuncia o espaço sacralizado do povo: a caverna. Ali é o mundo, o imnu, o local onde mora o divino urso, o espírito do povo, o espaço em que habita o povo, é o “onde” em que sobrevive o homem. Esse sobreviver-em, esse ser-em, seria apequenado se o entendêssemos apenas como um “estar dentro” de algo. Para além de uma simples relação espacial onde o corpo dos homens, tomados como coisa simplesmente dada, está simplesmente “dentro” dessa outra coisa corpórea e maior que os abrange – a caverna – o sobreviver-na-caverna expressa a familiaridade com esse mundo, significa estar “acostumado a, habituado a, familiarizado com, cultivo alguma coisa; possui o significado de colo, no sentido de habito e diligo”[7]. O clã habita no ambiente que lhe é próprio, a partir de suas necessidades mais íntimas e de suas características físico-anímicas mais singulares. É nesse espaço único, específico, que o povo cultiva suas memórias, suas crenças, seu deus-urso Mong-ur. E não poderia ser outro animal senão o urso, pois o povo da caverna não cria deuses, não forja seres fantásticos, do além, com pés de barro. Seu deus é aquele ser que, como eles, habita naquele mundo, nas cavernas. Mong-ur é a expressão máxima de uma fenomenologia religiosa que não poderia ser substituída, assimilada ou modificada sem antes substituir, assimilar ou modificar todo o mundo, todas as condições ambientais únicas que o formam, e com elas o próprio povo da caverna; é mais fácil imaginá-los, diante duma tal investida alienígena, triunfando ou desaparecendo.
É precisamente no risco do desaparecimento, fragilizados, sem uma caverna, e na busca por esse espaço específico, que a tribo encontra a pequena Ayla, exaurida, ferida, à beira da morte. Esse encontro, assim como quase tudo no cotidiano do povo da caverna, é mediado por uma espiritualidade in gene, em desvelamento, onde o espírito protetor, ou totem, de Iza (Pamela Reed) sinaliza seu dever para com Ayla, mesmo sendo ela de fora do mundo. E por ser de fora do “nosso mundo”, do clã, Ayla deveria ser deixada para morrer.
“Era o que diziam as memórias, o antigo conhecimento com qual todos nascem”
Iza é ninguém menos que a curandeira da tribo, aquela que conhece os mistérios da medicina das plantas e, por meio deste conhecimento, faz-se componente de grande importância para a sobrevivência da tribo. Iza sente que deve resgatar e proteger a pobre Ayla, contrariando à toda tribo, que prefere deixá-la morrer. É um engano imaginar os neandertais, nessa cena e em outras, como maus, vilões ou insensíveis. O respeito religioso às memórias era antes de tudo um respeito pela sobrevivência. Os antepassados, com todo seu conhecimento do mundo e das coisas que nele há, sobreviveram daquela forma e assim ensinaram as gerações mais novas. Viver os ensinamentos era sobretudo um dignificar-se, um tornar-se merecedor de estar ali, naquele povo e não em qualquer outro, com aquelas memórias e não com quaisquer outras. E eles ainda tinham que encontrar uma caverna! Não poderiam aventurar-se em heroísmo tolo sem antes garantirem sua sobrevivência diante de predadores e condições climáticas extremas e iminentes. Precisamente pela sobrevivência, pela luta cotidiana, é que a caverna era o local sagrado, alvo da busca, ponto fixo de onde as decisões eram tomadas.
“Vemos portanto, em que medida a descoberta – ou seja, a revelação – do espaço sagrado tem um valor existencial para o homem religioso; porque nada pode começar, nada se pode fazer sem uma orientação prévia – e toda orientação implica a aquisição de um ponto fixo. É por essa razão que o homem religioso sempre se esforçou por estabelecer-se no ‘Centro do Mundo’”[8]
Contudo, entre Iza e Ayla havia o totem, o espírito guia que naquele momento sinalizava a decisão a ser tomada. O resultado da decisão de socorrer Ayla e levá-la para junto do povo, a contragosto do resto do clã, veio logo em seguida. É Ayla quem encontra a caverna! A sabedoria da curandeira Iza residia no fato de que seu “ponto fixo” era sua própria sensibilidade íntima para com os sinais divinos sutis do cotidiano. Iza não precisava do extraordinário, e mesmo assim o extraordinário veio: a caverna. Estavam agora protegidos, aos cuidados de Mong-ur, no interior da caverna onde nem predador nem intempérie os poderia destruir.
Ali, no mundo neandertal intracavernoso, o filme nos dá indicações hipotéticas muito perspicazes sobre as origens de vários comportamentos humanos atuais, considerando a presença dessa raça ou subespécie na árvore filogenética humana. Ali vemos o alvorecer da fofoca, das intrigas, das relações de gênero e de parentesco, das estruturas sociais pautadas no triunfo da caça e da luta, entre outros. Mas antes de tudo, aquele é o mundo neandertal, com sua forma de ser no mundo, seu comportamento, seu sangue, seus costumes. Nesse ambiente, alguém como Ayla só poderia crescer enquanto enjaulada, privada de seu modo próprio de existir oriundo de seus ancestrais insubstituíveis. Da privação da liberdade, nasce em Ayla uma densa áurea de autoculpa pelo fracasso em enquadrar-se num mundo alienígena, apesar do esforço para consegui-lo. Em certo momento, Ayla agride a própria imagem refletida na água por não se julgar suficientemente bela, desejada, com “alguém que cace por ela” ou “sob cujo fogo” ela possa viver.
Apesar de suas tentativas sinceras para se enquadrar num mundo que não era seu – tentativas essas que só geraram dor, frustração e ódio – Ayla continuava sendo alheia ao clã, qualquer coisa de invasiva que deveria ser logo expulsa. Essa relação era mediada pela observação e experiência, ou melhor, pelas memórias: lembravam-se sempre do fato de que seu povo estava desaparecendo diante da chegada dessa nova raça de maiores crânio e estatura, comportamento inventivo e arredio e cabelos claros. Na tentativa de protegê-la do resto do clã, Iza sugere ao seu irmão Creb, o xamã da tribo, que seria melhor encontrar um espírito protetor para Ayla. Algo que acontece somente em partes. Creb não encontra e escolhe o espírito protetor de Ayla, ele apenas o descobre, o desvela. Creb se apercebe da grandeza do espírito de Ayla, o espírito do leão que, como tal, não poderia habitar na caverna do urso. “O espírito do leão é forte demais”. Leão e urso equiparam-se em força, poder, realeza, indomabilidade. Não pode haver dois espíritos de tamanha grandeza sob o mesmo fogo, sob a mesma caverna.
Por duas vezes Ayla é expulsa da caverna. Na primeira, para a morte. Na segunda, para a verdadeira vida.
Na primeira vez que é expulsa, Ayla carrega o futuro do clã em seu ventre, o que só torna sua sobrevivência ainda mais difícil. Porém, há nela a vontade do leão, o espírito herdado da grande raça cro-magnon, superior em vários aspectos aos neandertais, especialmente em sua inventividade, decorrente de sua estupenda capacidade cerebral produtora de gênios[9]: inventores do anzol, da agulha, do arco-e-flecha e, sobretudo, da arte. Ayla não nega sua vontade ancestral, ela a liberta, a manifesta naquela condição adversa “da qual ninguém jamais voltou”. É por meio de sua força e vontade ancestrais, de seu sangue cro-magnon, que Ayla vive, caça por si e por sua prole, dignificando-se dessa “(...) vontade, como a única coisa em si, o único verdadeiramente real, o único primordial e metafísico em um mundo onde todo o resto é somente aparência, quer dizer, mera representação, fornece a todas as coisas, quaisquer que venham a ser, a força graças a qual elas podem existir e atuar; [como em toda natureza, essa força] é absolutamente idêntica àquilo que encontramos em nós mesmos como vontade, da qual possuímos o conhecimento mais imediato e íntimo possível.”[10]
Em sua última tentativa de se enquadrar, Ayla participa da reunião inter-clãs do povo da caverna, se apresentando como a curandeira (uma posição marcada pela ancestralidade do instrumento usado na cura: a bacia que carrega os compostos químico-vegetais), posição essa que é prontamente negada pelos homens Mong-ur de outros clãs. Ainda no mesmo evento, Ayla presencia aquele que, por um momento, imaginou como seu companheiro, a ser decapitado pelo urso, num sinal autoexplicativo de que ela não tinha lugar ali. Interessante observar que esta personagem, apesar de sua rápida passagem pelo filme, tem grande peso para a arqueologia moderna: é um exemplar típico de mestiço entre neandertal e cro-magnon. É moreno, troncudo e de baixa estatura como um neandertal, mas possui o singular e inconfundível par de olhos azuis de um cro-magnon. De qualquer forma, o urso o destroçara, restando para Ayla a opção mais óbvia: ir embora da tribo e encontrar seu próprio caminho, algo sobre o qual ela teve certeza após presenciar, junto do xamã Creb, numa visão psicodélica, seu filho seguindo o caminho do urso, e o leão, por sua vez, caminhando sozinho. Mesmo as mais reveladoras visões espirituais estavam, naquelas circunstâncias, diretamente relacionadas aos elementos naturais da vida: animais, plantas, vales, colinas, enfim, tudo que havia de cotidiano na existência.
Em seu ato final junto ao povo da caverna, Ayla mostra, por meio de sua força, que tinham escolhido um líder inapto, “que feria ao próprio povo”, e que tombava mesmo diante de uma mulher. Ayla, a cro-magnon que sabia contar muito mais do que dez pedras; que havia tocado em armas e aprendido, sozinha, a manuseá-las; que salvara a vida de uma criança cro-magnon, mesmo não sendo “de seu mundo”; que sobrevivera sozinha diante dos perigos do mundo e que agora “tinha experimentado a força do próprio espírito”, esta mesma Ayla sabia exatamente o que fazer. Deveria achar seu próprio ponto fixo, seu espaço sagrado, seu imnu.
Deveria encontrar seu próprio povo, que não poderia estar em outro lugar senão na direção do Sol, para onde ela caminha, poeticamente, em seu grande desfecho.
NOTAS
[1] A referência a Darwin quando se trata da questão biológica humana está longe de refletir um biologicismo simplório e pejorativo que nos meios mainstream costuma ser ora perseguido, ora desdenhado, a despeito de suas consequências políticas. Na verdade, apresenta cientificamente o esforço pela compreensão da integralidade daquilo que significa, em última instância e de forma literal, ser humano. O próprio Darwin, em dois capítulos de seu “Origem do homem”, nos apresenta certas singularidades humanas em função da autoconsciência, linguagem, senso do belo, crenças espirituais e moralidade, ensaiando para elas breves explicações amparadas por grandes mestres da ciência de sua época. Cf. DARWIN, Charles. A origem do homem e a seleção sexual. Belo Horizonte: Garnier, 2021. p. 13-28.
[2] MOREIRA, J. O. A ruptura do continuar-a-ser: o trauma do nascimento prematuro. Mental, Barbacena, v. 5, n. 8, p. 91-106, jun. 2007. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/mental/v5n8/v5n8a07.pdf>. Acesso em: 01 jan. 2022.
[3] WINNICOTT, Donald. W. Memória do nascimento, trauma do nascimento e ansiedade. In: _____. Da pediatria à psicanálise – Obras escolhidas. Rio de Janeiro: Imago, 2000. p. 261-262.
[4] PESSOA, Fernando. O Guardador de rebanhos. In: _____. Poemas de Alberto Caeiro. Lisboa: Ática, 1946. p. 24.
[5] ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 2020.
[6] TEIXEIRA-PINTO, Márnio. Ieipari: sacrifício e vida social entre os índios arara. São Paulo: Hucitec, 1997.
[7] HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Petrópolis: Vozes, 2018. p. 98-100.
[8] ELIADE, M. Op. cit. p. 17.
[9] GRANT, Madson. A passagem da grande raça. 2021. p. 53-70.
[10] SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre a Vontade na natureza. Porto Alegre: L&M Pocket, 2018.

A IMPORTÂNCIA DA FILOSOFIA NAS CIÊNCIAS DO ESPÍRITO: A ESTÉTICA
Por Manassés Boccaldi
13 de março de 2024
“A Filosofia aceita as descobertas das ciências especiais como dados seus, trata dos princípios e características fundamentais que constituem a ordem do Universo como um todo”. (Miriam Joseph)
UMA BREVE INTRODUÇÃO AO BELO
No que diz respeito à filosofia tradicional, no mundo clássico, assim como no Ocidente Medieval, o belo era associado ao bem e à verdade, e integrado à Ética e à Lógica. De modo geral, a beleza trata-se de uma qualidade constituída do valor não utilitário de um elemento, presente seja em superfícies, sons, aspectos, etc. Assim, a beleza é contemplativa; é aquilo que desperta interesse imediato no indivíduo quando diante de algo, podendo ser reconhecida — como no ideal de Aristóteles — através da harmonia; do equilíbrio presente nos elementos do objeto de contemplação. Portanto, ela é íntima à racionalidade. A Irmã Mary Francis Slattery, freira, crítica de arte, e membra da equipe da The New Catholic Encyclopedia, The Catholic University of America, Washington, D.C., evidencia:
"(...) a beleza não é o objeto organizado, mas uma qualidade de sua organização. Assim, um objeto não é belo se suas partes carecem de variedade, se suas inter-relações carecem de sutileza, etc. Como valor, a beleza é desejável; mas, diferentemente do valor que torna as coisas úteis ou intercambiáveis, o valor da beleza é o valor como fim e desejável para a contemplação. Diz-se que esse valor é estético. Os valores no objeto individualizado estão impregnados e se qualificam mutuamente, mas podem ser abstraídos pela mente e simplificados para que as distinções sejam claras."
Como citado, é em Aristóteles que surge a ideia de beleza fundamentada na ordem, qual medeia a simetria e o definido. Ademais, mesmo que se qualifique pela relação de seus elementos constituintes — condizentes ao equilíbrio e a proporção — o fruir do belo também pode, por meio da sutileza, ocorrer em partes individuais “de rara insistência”, como enfatizado por M. Slattery.
No mundo romano, Cícero fez a junção do ideal clássico da kalokagathia[1] e do aristotélico, submetendo o belo ao ramo da Ética: a beleza maior para ele era aquela intrínseca ao espírito, associada à Virtude, pois como mencionado por Ricardo Costa, professor de história da arte no Departamento de Teoria da Arte e Música da UFES, é no espírito do sujeito virtuoso que surge “a inspiração de todas as belezas que os artistas representam[2]”.
Independente de qual definição dispusermos, para que exista, o belo depende da mente, e seria impossível dissociar sua natureza da filosofia, uma vez que é por meio da racionalização que o qualificamos. No entanto, no contexto do mundo antigo o belo estava associado estritamente às coisas mais dignas de serem amadas. Em outras palavras, a ars romana ou a techné grega diziam respeito mais à uma ciência empírica do que a uma filosofia independente. A fundamentação de uma ciência do conhecimento sensível surgiria apenas no século XVIII, com Alexander Baumgarten.
A ESTÉTICA COMO FILOSOFIA
Proveniente do grego aisthesis, “apreensão pelos sentidos”, “percepção”, o termo “estética” foi vinculado ao ramo da filosofia em meados de 1750, quando Baumgarten fundou a Estética enquanto disciplina filosófica independente. Ao lado da lógica, a estética compreende uma área do conhecimento associada aos sentidos — o conhecimento sensível.
No caminho próprio da filosofia, seu rumo torna-se inseparável da Estética, influenciando-a e ao mesmo tempo sendo influenciada por ela. À citar exemplo, a investigação sobre o poder estético — próprio da filosofia moderna — se origina da investigação do poder criativo da mente; da mesma forma como a imaginação criativa e a lógica poética — próprias da estética — influenciaram no intelectualismo e no formalismo tradicionais.
No Mundo Antigo, a filosofia não se preocupava muito com o que hoje chamamos de “arte”, — com exceção da Poética, apreciada por todos os filósofos clássicos; lembrando que as Fine Arts[3] são uma concepção moderna — e, assim, ela não se desenvolveu. A filosofia antiga tinha um caráter muito mais “físico” e “metafísico”, portanto, objetivista, ou então “naturalista”, opondo-se ao subjetivismo da Estética. A remoção desse caráter naturalista da filosofia antiga se iniciou com Sócrates, no que resultou a origem das escolas pós-socráticas, que trouxeram os problemas intrínsecos à alma para a esfera do pensamento.
Com o Renascimento houve um retorno à tradição naturalista do período clássico, o que trouxe uma nova luz à poética, à retórica e aos antigos tratados das artes. Mas mesmo trabalhando longamente os conceitos de “verossimilhança”, “imitação” e “ideia”, “beleza”, ou até mesmo a “catarse”, os renascentistas em geral não desenvolveram nenhum novo princípio que conferisse autonomia ao estudo filosófico das artes. Da Vinci foi pioneiro nesse sentido, mas como livre-pensador, não como “filósofo” profissional.
Entretanto, viu-se no período Barroco algo muito mais promissor. O pensamento dessa época foi o que pela primeira vez insistiu na distinção entre o “intelecto” e o então chamado “ingegnium”, hoje conhecido como “gênio”, sendo esse o fator inventivo da arte. Juntamente a este conceito surge o “gosto”, faculdade de julgamento que difere da racionalização ou do julgamento lógico, porque julga “sem discurso” e “sem conceitos”. Dentre estas, surgem outras definições quais a estética compreende, como a “imaginação” o “sensível” e “nescio quid”. Sob os teóricos que desenvolveram estes conceitos nos foi legado os trabalhos de Giambattista Vico, pai da já citada lógica poética, nos quais a difere da lógica intelectual. De acordo com Benedetto Croce, filósofo, historiador e político italiano por dezesseis vezes indicado ao Nobel de Literatura, Vico considera a poesia como: “um modo de consciência ou forma teórica que precede a forma filosófica ou racional[4]”, sendo a imaginação o seu único princípio.
Porém a lógica poética só se desenvolveu quando encontrou um ambiente mais apropriado, dessa vez, e finalmente, em Baumgarten, que “sistematizou uma estética de origem leibnitziana um tanto híbrida e deu-lhe vários nomes, incluindo ars analogi rationis, scientia cognitionis sensitivae, gnoseologia inferior e o nome que manteve, aesthetica” (Meditationes, 1735; Aesthetica, 1750-58). Seus princípios distinguiam e, ao mesmo tempo, não distinguiam a forma imaginativa da lógica, já que a considerava como cognitio confusa — cognição confusa — e de maneira simultânea atribuindo à ela uma perfeição própria.
Trabalho de inigualável importância no que diz respeito à Estética foi a Crítica do Juízo, de Immanuel Kant, em que este propõe inserir o gosto, o prazer perante o agradável em seu sistema. Ou seja, finalmente a autonomia da atividade estética. Continua Croce:
Contra os utilitaristas, ele mostrou que o belo agrada “sem interesse” (isto é, interesse utilitário); contra os intelectualistas, que ele agrada “sem conceitos”; e ainda, contra ambos, que ele tem “a forma de propósito” sem “representação de um propósito”; e, contra os hedonistas, que ele é “o objeto de um prazer universal”.
Kant deu as bases para que os pensadores posteriores viessem a tratar novamente sobre o “conceito confuso” — originado em Leibniz e Baumgarten — na qual o gênio seria o responsável pela “junção do intelecto e da fantasia”, assim como distinguiu a arte da “beleza pura” definindo-a como “beleza aderente”. Schelling a colocaria em um nível acima da própria filosofia:
“(...) Esse retorno à tradição de Baumgarten é evidente na filosofia pós-kantiana quando considera a poesia e a arte como uma forma de conhecimento do Absoluto ou da Ideia, seja igual à filosofia, inferior e preparatória a ela, ou superior a ela, como na filosofia de Schelling (1800), onde ela se torna o órgão do Absoluto. Na obra mais rica e marcante dessa escola, as Lectures on Aesthetic (sic.) de Hegel (1765-1831), a arte, com a religião e a filosofia, é colocada na “esfera da mente absoluta”, onde a mente é liberada do conhecimento empírico e da ação prática e desfruta do pensamento beatífico de Deus ou da Ideia[5]”.
Sob essa visão, arte e religião são submetidas à uma espécie de “filosofia intuitiva” e, portanto, incompletas, estando sua natureza sujeita ao jugo da filosofia para que cheguem a um ideal intelectivo. Ainda em Croce:
"(...) mas está claro que ambas, arte e religião, são ao mesmo tempo transcendidas e incluídas na síntese final que é a filosofia. Isso significa que a arte, assim como a religião, é substancialmente uma filosofia inferior ou imperfeita, uma filosofia expressa em imagens, uma contradição entre um conteúdo e uma forma inadequada a ele que somente a filosofia pode resolver."
Hegel, propôs a identificação do sistema da filosofia com a história real e expressou isso em seu paradoxo da morte da arte no mundo moderno, onde a arte se via incapaz de atender aos mais altos interesses da época[6]. Em Hegel, o conhecimento é subordinado, e se manifesta nos diferentes tipos de arte, de maneira hierarquizada. No topo desta hierarquia estaria a filosofia especulativa, ou então o “conhecimento metafísico”.
CONSIDERAÇÕES
É da síntese de todo o extenso trabalho intelectual acerca dos objetos estéticos ao longo da história, o qual resultou na criação de um estudo específico e aprofundado das artes, que podemos começar a refletir sobre a importância desse ramo filosófico em nossas vidas. Pode-se dizer que a filosofia atribuída à arte, em essência, constitui um determinado papel pedagógico para com a elevação ética e espiritual do indivíduo. Do legado dos antigos a esse respeito não deveriam ser omitidas as excelsas palavras ditas por Platão, em sua República:
“…devemos vigiar os outros artistas e impedi-los de introduzir na sua obra o vício, a licença, a baixeza, o indecoro, (…) a fim de que os jovens, tal como os habitantes de um lugar saudável, tirem proveito de tudo, de onde quer que algo lhes impressione os olhos ou os ouvidos, procedente de obras belas, como uma brisa salutar de regiões sadias, que logo desde a infância, insensivelmente, os tenha levado a imitar, a apreciar e a estar em harmonia com a razão formosa (…) aquele que foi educado nela (…) honraria as coisas belas e, acolhendo-as jubilosamente na sua alma, com elas se alimentaria e tornar-se-ia um homem belo e bom, ao passo que as coisas feias, com razão as censuraria e odiaria desde a infância” (II, 401b–402a).
Pensar acerca da natureza do objetos estéticos, do impacto que estes surtem em nossa realidade — pois que comungam com nossa existência — como também se propor a buscar o conhecimento por eles expresso, mostra-se indispensável ao ser humano, já que invariavelmente acaba por conduzir-nos rumo à um estado mais elevado de ser. Assim, trata-se de uma importância a nível ontológico. Ademais, as artes podem nos submeter a experiências indispensáveis, mas é a razão propriamente dita que complementa seus princípios e, dessa forma, ainda, evidencia seu papel como produto intelectual. A filosofia é seu arcabouço, e tal correlação torna-se cada vez mais evidente na medida em que nos aprofundamos no estudo da estética: do gosto imediato e superficial à séria reflexão.
REFERÊNCIAS
Os Pré-socráticos. Fragmentos, doxografia e comentários. São Paulo: Nova Cultural, 1991, Coleção Os Pensadores, p. 209.
ARISTÓTELES. Metafísica. São Paulo: Edições Loyola, 03 volumes, 2005.
CROCE, Benedetto. Benedetto Croce on aesthetics. Encyclopedia Britannica. 14 ago 2014. Disponível em: https://www.britannica.com/topic/Benedetto-Croce-on-aesthetics-1990551. Acesso em 4 Mar 2024.
SLATERRY. M. F. Beauty In Aesthetics. Encyclopedia.com. s.d. Disponível em: https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/beauty-aesthetics. Acesso em 3 mar. 2024.
MENEZES, Pedro. O que é Estética na Filosofia? Toda Matéria. s.d. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/estetica/. Acesso em 06 mar. 2024.
COSTA, Ricardo. Estética: na Antiguidade e na Idade Média. Vitória: UFES, 2017. p. 1-8. Disponível em: https://www.scribd.com/document/562241103/COSTA-A-Estetica-Na-Antiguidade-e-na-Idade-Media-Idade-Media-Prof-Dr-Ricardo-da-Costa. Acesso: 10 Mar. 2024.
NOTAS
[1] Conceito grego que provém da expressão kalos kai agathos, cujo significado aproxima-se de “belo e bom”, ou “belo e virtuoso”.
[2] COSTA, Ricardo. Estética: Na Antiguidade e Na Idade Média. Vitória: UFES, 2017.
[3] As Belas Artes; definição surgida no século XVIII, qual agrupa a pintura, escultura, música, dança, etc. Para o homem clássico, tanto o ofício de um ferreiro, quanto o de um cozinheiro ou mesmo de um orador, era chamado de arte.
[4] CROCE, Benedetto. Benedetto Croce on aesthetics. Encyclopedia Britannica. 14 ago 2014. Disponível em: https://www.britannica.com/topic/Benedetto-Croce-on-aesthetics-1990551.
[5] Idem.
[6] Esta noção não raro gera interpretações equívocas, assim, é importante enfatizar: no contexto de sua Lições de Estética, Hegel compara os antigos gregos ao povo moderno, e lamenta que a vida moderna tenha se tornado tão abstrata (separada da vida e vinculada a noções puramente intelectuais, como lei, conceito, norma, burocracia, cálculo, etc.) e dependente do particular, ignorando o universal. Dessa maneira, a arte não é mais levada a sério, não é mais objeto digno do pensamento, e só entretém e dá prazer, distrai e decora ambientes para “relaxar” a vida de nosso tempo. Hegel irá contradizer esse quadro; e não como muitos sugerem, que ele estaria fazendo elogio à filosofia e à abstração, colocando a arte como um “saber inferior” que “precisa ser superado” ou que felizmente “está morto”.
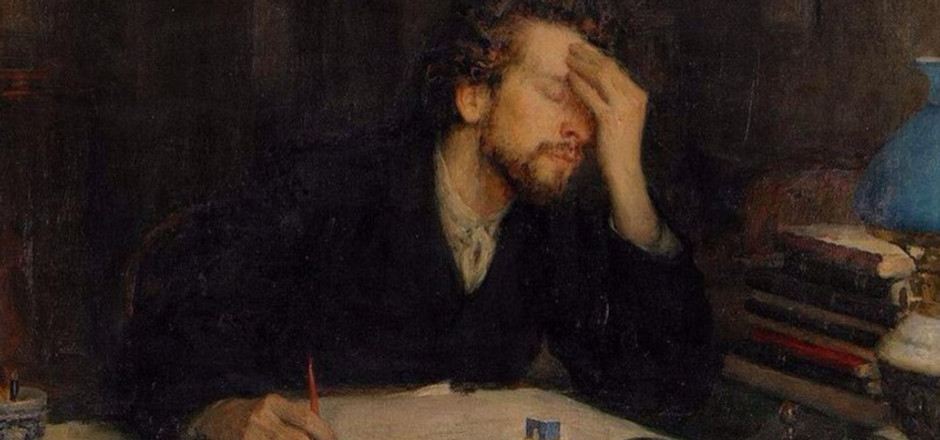
DE PHILOSOPHO HODIE OU DA ATUAÇÃO DO INTELECTUAL MODERNO
Por Gian Luca Zancanaro Maffezzolli
05 de abril de 2023
Eu, ainda que integrante do Curso Propedêutico à Filosofia Universal, de modo a receber instruções de um mestre altamente capacitado e de bom espírito, não posso chamar-me intelectual; e não creio fazê-lo algum dia. Estou longe disso, sendo-me difícil falar acerca das implicações em ser um homem de saber. Contudo, com visão de aprendiz, hei de tentar, aqui, expor em que consistiria a atuação do intelectual na sociedade hodierna, bem como algumas dificuldades que este pode encontrar.
A princípio, creio ser importante, caro leitor, elucidar-te a respeito da minha concepção de intelectual: sigo através da mesma via que Jonas O. Bilda que, em citação a Thomas Sowell em seu Cartas de Um Solícito Acompanhante, diz que o intelectual é aquele cujo trabalho começa e termina no campo das ideias, sem retorno monetário, independentemente do fim que hão de receber tais ideias. Em outras palavras, o que chamamos hoje de “livre-pensador”, sujeito que transita pelo vale a colher frutos (conhecimento e sabedoria) e plantar sementes (transmissão dos saberes), banhado pela luz do grandioso Sol - ou razão. Nem sua mente, nem seu espírito estão sujeitos ao jugo de seres inferiores; tampouco encontram-se moribundos, envenenados pela ganância em uma busca desenfreada por lucro. Apenas com essa explicação, se pertences a mesma sociedade moderna na qual eu me encontro, percebes que o sujeito intelectual encontrará certa dificuldade em exercer seu preclaro papel. Ora, por que digo isso? Explico; porém com analogia ao filme 1984, baseado na novela homônima do autor George Orwell. Tal filme coloca-nos em um mundo imerso em constante conflito, segregado em três facções: Eurásia, Lestásia e Oceania. Na Eurásia, há uma espécie de ditadura, a qual possui como líder a figura chamada de Big Brother ou Grande Irmão. Neste Estado, há um órgão público denominado Ministério da Verdade que possui como atribuições - longe de estar em concórdia com a verdade - alterar os fatos para que estejam sempre em favor do poder vigente; destruir, de modo a excluir de toda a história, quaisquer verdades que ameacem a integridade do poder; bem como, criar um dicionário com um novo vocabulário com exclusão de certas palavras, alteração de outras, novas regras gramaticais etc. Todo este empenho com o intuito de influenciar o vulgo a favor do governo e suprimir aqueles que, para seu infortúnio, questionam a administração. Não te pareces, nobre leitor, uma descrição um tanto familiar? O mundo contemporâneo sofre com o mesmo mal. Não se é permitido pensar livremente, tampouco expressar-se. Expressar um pensamento dito “politicamente incorreto” pode resultar em graves acusações e penas. Nossa nave tomou um rumo tenebroso, de uma correnteza feroz, de modo que se não colidir com as rochas e vir a naufrágio, será arrastado até uma cachoeira e encontrará seu fim em amargo declínio. Tal cenário pode parecer um tanto perturbador e desafiador ao intelectual, o qual encontra-se suprimido sem a possibilidade de usar efetivamente sua única e poderosa arma: a mente. É ainda mais severa a desdita do pensador sul-americano, em especial o brasileiro, que além de ter de lidar com a censura de pensamento, deve esforçar-se ainda mais para conseguir os materiais necessários ao seu desenvolvimento pessoal. Há diversas obras ainda não traduzidas para o português ou que simplesmente não encontram-se em circulação no país. Na melhor das hipóteses, o intelectual pode aventurar-se por obras e traduções em línguas estrangeiras similares como o espanhol, o italiano e o francês. Este trabalho torna-se mais fácil se o sujeito souber outro idioma, mas, é claro, ainda teria de empregar tempo em aprendê-lo. Ademais, não há uma tradição acadêmica no sul do continente americano, tal como no norte ou continente europeu; para o infortúnio do latino americano, o repúdio ao livre-pensamento é, também, disseminado entre as universidades e academias. Deste modo, aquele que anseia por receber, de Minerva, as bençãos, deve encontrar, só, o seu templo.
Diante de tais circunstâncias, suficientes para desmotivar os espíritos mais fracos, como pode seguir, o homem virtuoso, praticamente desarmado, nesta agonizante peleia à conquista do conhecimento libertador? Pode, a princípio, buscar ensinar-se a si mesmo. Muitos preclaros varões contribuíram com este mundo, legando-nos, ao menos, parte do conhecimento que possuíam. Desta forma, há muito o que aprender, se assim tiver vontade. Aliar-se a outros varões de augusto espírito, de modo a contribuir, reciprocamente, com o aprendizado pessoal de cada um, inspirando-se uns nos outros, contribuindo com um pouco de luz neste mundo envolto por trevas. Ora, é isto que simboliza o feixe: um único graveto é frágil, mas quando unido a outros, formam um conjunto rígido e resistente. Por fim, a produção de obras literárias, de tal forma a pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo desta jornada. A criação é o último passo, mas seu fim é dos mais nobres: o sujeito estará contribuindo, com seu conhecimento, para com este mundo e as futuras gerações, desta forma, estará a influenciar outros a percorrerem a áurea via do saber. Há, ainda, a possibilidade de uma glória póstuma, mas esta não deve ser o ideal a ser alcançado, sob pena de desvirtuar-se do trajeto original e decair-se na densa e escura floresta da perdição.
Pois bem, é desta forma: tamanha empresa não é - e nunca foi - reservada a todos; apenas os fortes de espírito guiados pela luz da razão e amparados pela Providência podem aventurar-se pelos campos sempre primaveris do conhecimento. Os obstáculos são muitos e a dor experimentada enquanto luta para superá-los é terrível. Contudo, nada é impossível para uma alma destemida e cheia de vontade. Há muito o que fazer e o tempo é curto. Sendo assim, vos digo: que o invencível Sol nos ilumine a todos nesta jornada incansável ao Templo do Saber!

CARTA AO JOVEM ESTUDANTE DO CURSO DE FILOSOFIA UNIVERSAL
Por Marcelo da Silva Irmão,
28 de março de 2022
Caro colega de estudo,
Sua chegada até aqui mostra que vencestes já um enorme caminho extenuante.
Percorrestes vastas planícies ressequidas, onde a pouca água disponível se encontra no controle de grupos vorazes que anseiam, numa troca vil e enganosa pelo líquido precioso da vida, consumir o teu ser até que fiques tão ressequido quanto as plantas que a duras penas neste deserto de almas sobrevivem.
No breu da noite caminhastes até teus pés sangrarem, em busca do facho de luz distante que, a despeito de sua natureza vívida como uma centelha, convida aos perdidos para que comunguem de seu calor e de sua proteção.
Sob a sombra das árvores buscastes repouso ante essa atmosfera sufocante e causadora de delírios que a todos cerca, e em suas folhas vistes um esconderijo para tuas vergonhas.
Pois digo que, em meio ao deserto da perdição, um convite a ti foi estendido a partir do céus. Do Reino do Excelso desce uma escada que te convida a subir. E isto é porque te fizestes digno em tua longa e penosa jornada. Não te assustes se ela parece grande demais, saiba que os calos que carregas te fazem apto a subir.
Neste último desafio existencial, cujo fim é o encontro com a verdade, alguns passos fundamentais precisam ser dados para que gradualmente subas a escada. Nesta subida ficará claro que, ao contrário do deserto sombrio da morte do espírito em que te encontravas, aqui, neste reino celeste, companheiros de subida estender-lhe-ão os punhos e o ajudarão a subir.
O ponto zero, que é o momento em que vês a subida da montanha e olhas para o deserto ao redor, é o do reconhecimento. Precisas reconhecer o teu estado, o teu lugar e, a partir deles, teu resultado iminente. Precisas insatisfazer-te com este resultado, pois o resultado de secar no deserto é a morte. Precisas estar ciente de que esta montanha que te desafias agora, é a montanha da vida, de uma nova vida que surgirá após a colina, e que naturalmente exigirá a morte do teu estado anterior acostumado aos grãos de areia do deserto. Lá em cima, e disso obterás certeza enquanto sobes, o vento é impiedoso com os que não seguram a corda com todo o vigor de seu ser, e ele não hesitará em derrubar os que no meio hesitarem em subir. O quadro, e não quero causar susto ao dizê-lo, é este: se ficares, morres; se subires pela metade, morres; e se ainda nem notou a subida diante de ti, então certamente já estás morto. Reconheça-o.
O ponto um, que se devidamente cumprido possibilitará toda a subida da montanha, é o preparo, ou melhor, o preparar-se. Posso ainda dizê-lo noutro termo: organizar-se. Reconhecido o quadro em que te encontras, saberás que és em tudo limitado. Tuas forças são limitadas, tua vontade é limitada, teu entusiasmo é limitado, teu medo é limitado, teu prazer é limitado, teu tempo é limitado. Veja, pois, meu colega calouro, nada disso poderá por si só garantir a tua subida em tão grande montanha e que exige tão grande atenção e cuidado. O cuidado aqui é para que saibas exatamente o que tens disponível nesta subida, e para que separe isto daquilo que deve ser dispensado. Muito peso o tornará incapaz de sustentar-se nos braços, como um hipopótamo almejando alcançar o alto da palmeira. Muita leveza o tornará frágil e facilmente carregável pelo vento, como uma garrafa num oceano em maremoto. Encontra, pois, o equilíbrio de tua vontade, o equilíbrio de teu entusiasmo, o equilíbrio de teu medo, o equilíbrio de teu prazer e por último mas não menos importante – na verdade o mais importante – o equilíbrio de teu tempo. Tenhais em mente que serão quatro horas semanais de subida acompanhada de teus guias, entre eles este que vos fala, e mais horas semanais serão necessárias para que subas sozinho, que é quando verdadeiramente ganharás altura. Entendes o que digo? Direi ainda mais claramente: organiza o teu tempo, separe devidamente o que será devotado à subida e o que será devotado ao descanso. Não esqueças de separar também o tempo do lazer, pois a vista lá de cima, reservada pelos deuses às águias, é a coisa mais bela que verás. Aprecie a vista, mas somente depois de subir suficientemente! Trabalhe! E para isso também deves organizar o teu espaço, o teu momento: conecte tudo à energia, não deixes descarregar os aparelhos de comunicação; seja pontual quando o guia chamar, pois se ele chama é que o perigo de tempestade é iminente; separe um caderno específico para anotar todo o aprendizado da subida, consagra-o a isso e proteja-o das intempéries.
Isto nos leva para o ponto dois. És capaz de recordar agora das ocasiões em que, estando no deserto da perdição e da fome, pedistes por informação aos andarilhos que encontrastes e estes não lhes deram mais do que a direção para o abismo? Lembrate disto, calouro? Lembra-te das vezes que fostes levados por guias cegos aos buracos espinhentos onde te feristes e chorastes sem socorro? Lembra-te? Pois saiba que tens agora um guia autêntico, que vê o caminho e que anda ao teu lado, pois foi ele vivificado naquela centelha que desde há muito persegues. Saiba ouvi-lo atentamente. Reconheça-o como guia da montanha, experiente e atento aos desvios perigosos. Saiba respeitar a antiquíssima hierarquia de mestre e discípulo, que se fará presente aqui a todo momento, e então saberás o que fazer e quando fazer. Deixes teu orgulho de lado, ele é o verme que se alimenta da fibra de teus músculos, sem os quais é certo que morrerás na subida. Elimine o fungo da egoidade infantil e nauseabunda que te possa levar a questionar sem fundamentos este que irá te ensinar as técnicas da escalada. Não te deixes levar pela vaidade de realizar piruetas na corda com fins de obter aplauso, ninguém te aplaudirá na queda para a morte. Lembre-se que somente urubus aplaudem a morte, posto que é sua eterna garçonete. Além do vento poderoso, dos raios fumegantes, da chuva que fará tuas vestes pesarem e do contato entre tua pele e a rocha que te fará sangrar, ainda tens que vencer os urubus que te rodeiam, que espreitam desejosos de tua queda. Seja silencioso ao seguir teu mestre. Guarde sigilo quanto às técnicas e às aprendizagens. De tua carne, os urubus farão a janta, e de tua memória, farão piada. Tudo que querem é um erro teu, um escorregão, uma tolice infantil que pode ser facilmente evitada se ouvires o guia.
Porém, cá nos deparamos novamente com o Limite, esta deidade suprema que a tudo afeta e a todos impõe seu horizonte. O teu guia e mestre também é limitado, meu ilustre companheiro de escalada! Entenda isso e logo te depararás com o ponto três desta carta: teu ganho de altura só será verdadeiramente promissor quando o realizares sozinho, inteira e irreversivelmente sozinho. Nesta subida para a colina da vida, não podes agarrar-te às costas de outrem, não podes usar muletas para teu espírito, não podes sequer desejar que outros o carreguem. Se não tiveres pernas e braços saudáveis para a subida, bem como uma visão e ouvidos atentos aos perigos, então digo-te que deves morrer. E morrer só. Nem comeces a subir, pois além de incapaz de sustentar a si, ocuparás a corda pelo qual outros mais naturalmente aptos poderiam estar subindo com destreza e heroísmo. Fiques no deserto, encontre lá o teu lugar junto aos mercadores, abrace os salteadores, lamba-os para que o aceitem e torne-se um deles, para que sejais, no futuro iminente, fulminado pelo Trovão que descerá dos céus. Atentai-vos, pois, a isso: suba sozinho ou não suba. Mas apaziguai vosso coração! Nada disso é para causar-lhes temor gratuito. Se o digo é porque também o ouvi, e tendo ouvido com o espírito, o superei e subi. Ouça agora com o espírito: se estás a ler isto é porque és apto a subir; é porque fostes selecionado, não por olhos humanos, mas pela visão numinosa da Águia Dourada. Estivestes sozinho no deserto por tanto tempo! Temerás agora a subida solitária rumo ao encontro sublime?
Direciono-me, agora, para o quarto e último ponto, que na verdade é o quinto. Aliás, estejais atentos desde já ao mistério dos cinco pontos, compostos pelo central, irradiador, cercado pelos outros quatro. Enfim, pretendo finalizar neste quarto ou quinto ponto em respeito à grande deidade Limite, que também afeta tua paciência nesta leitura. Este último ponto refere-se, sem qualquer intenção de estragar a surpresa, ao que encontrarás no alto da montanha após a jornada heroica: reconhecestes tua condição pueril, organizastes os teus recursos limitados, ouvistes com atenção o teu guia e enfrentastes a solidão da jornada? Então és merecedor do encontro resplandecente com o retângulo refletor. Sim! Encontrarás lá em cima um espelho: uma Grande Águia Dourada de asas abertas estará segurando em suas garras um espelho. A centelha que persegues há anos no deserto, meu humilde colega escalador de rocha, é a luz que emana de ti mesmo e reflete no topo da montanha! O que tem no espelho só teus olhos poderão ver, só tua pele poderá sentir, teu ouvido ouvir, teu nariz farejar e tua língua distinguir. Após este contato intuitivo, totalmente experiencial, então só tua boca poderá dizer o que és, o que tem se tornado ao longo da jornada, que em nada difere daquilo que sempre fostes originalmente.
A jornada te terá servido, digníssimo calouro, para externar a luz que a areia do deserto ofuscou. A máscara colocada em ti, em tua alma, despencará do cume do monte e se quebrará lá embaixo, será inútil mesmo para os animais peçonhetos e para os salteadores adoecidos com vermes e fungos que lá vivem. Então serás livre! Mas não para gozares o mundo com prazer e felicidade sem fim. Te lembras da grande deidade? Sim! Limite aparecerá e te dirás que deves entrar no espelho, deves atravessá-lo, pois há mistério neste espelho: em vez de quatro, ele tem cinco pontas. O espelho que a Grande Águia Dourada segura em suas garras tem cinco vértices! Entrarás nele e conhecerás o arcano.
Do outro lado, renascido, verás outra montanha.